

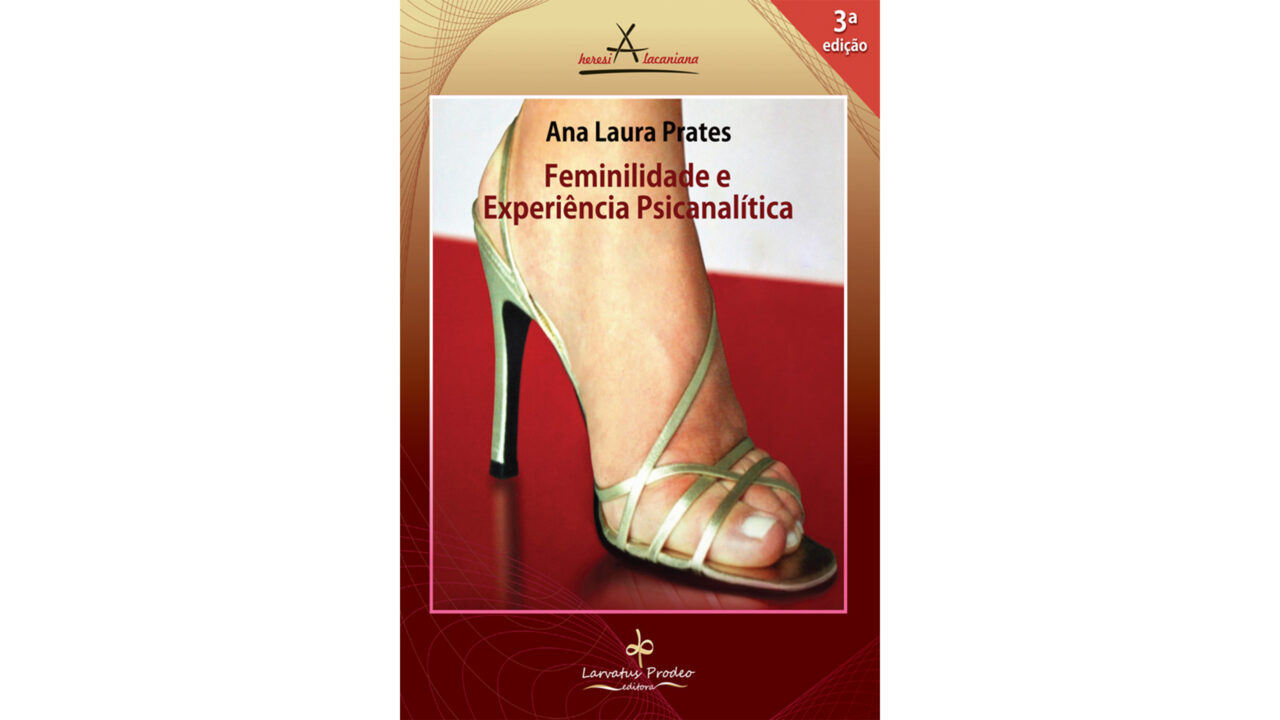
Publicado em: 08/03/21
Ana Laura Prates (em colaboração a MULHERES EM MOVIMENTO)
Para a Psicanálise a maternidade é, fundamentalmente, uma função. Foi o psicanalista francês Jacques Lacan quem nomeou de “função materna” uma série de processos que ocorrem entre o bebê humano e qualquer “outro” que encarne o papel essencial de humaniza-lo. Desde que Sigmund Freud descobriu o inconsciente e nomeou de Complexo de Édipo um conjunto de relações paradoxais e determinantes que ocorrem desde o nascimento, sabemos que de certo modo, precisamos nascer duas vezes: um nascimento biológico e outro nascimento simbólico que nos humaniza, nos tornando seres de desejo e de direito.
Tomar a maternidade como uma função tem dupla consequência ética: em primeiro lugar, a de promover a disjunção no que diz respeito à redução histórica da mulher à mãe, ou em outras palavras, apontar para o fato de que uma mulher não tem como destino inexorável ou determinante de sua existência ser mãe.
Em segundo lugar, apontar para a desnaturalização da maternidade indicando que, mais além das distintas configurações familiares, o que está em jogo em termos estruturais é a entrada na linguagem e na cultura e que, portanto, essa função poderá ser exercida por qualquer “outro”, independente de sexo, gênero ou relação biológica.
Esse tratamento da maternidade como algo cultural e não biológico localiza a Psicanálise como aliada do movimento feminista que luta historicamente pelos direitos reprodutivos.
Desde que Simone de Beauvoir escreveu “O segundo sexo” sabemos as consequências nefastas da redução do corpo feminino às suas funções biológicas e reprodutivas, como se os ovários e o útero definissem o destino das mulheres.
Para Beauvoir, o trajeto possível à época foi uma recusa radical da maternidade, o que abriu caminho para a luta feminista pelos direitos reprodutivos, e conquistas como a pílula anticoncepcional e a legalização do aborto.
Posteriormente foi possível dialetizar dessa posição através do reconhecimento da maternidade como uma das vias possíveis de expressão do feminino e, atualmente, tem-se problematizado e debatido o significado social da maternidade a partir da noção de gênero.
Se a maternidade é uma função, como podemos compreender sua redução histórica a um destino natural de quem nasce com ovários e útero? Ora, essa redução se deve aos movimentos de colonização e dominação do corpo da mulher. E é nesse contexto que se localiza a criminalização do aborto como um dos agentes mais cruéis e perversos dessa colonização.
O próprio Freud se pronuncia a respeito, quando da perda de sua filha Sophie, vítima da “gripe espanhola”, quando vivia uma terceira gestação que havia deixado claro que não queria. Freud critica os médicos retrógrados e os métodos anticoncepcionais da época, e em uma carta a Oskar Pfister de 1920 se refere a “uma lei tola e desumana que obriga as mulheres a continuar com gestações indesejadas”.
Com efeito, a lei que criminaliza o aborto no Brasil com pequenas exceções, faz parte de um conjunto de dispositivos de dominação secular.
No livro “Dar a alma: história de um infanticídio”, Adriano Prosperi nos conta a história de Lucia Cremonini, moça pobre, provavelmente experimentando uma gravidez fruto de estupro. Foi um dos primeiros casos de condenação a enforcamento por infanticídio, em 1709. Esse caso em particular revela uma mudança de discurso, e uma aliança ideológica entre a ciência da época, a moral e a religião.
A historiadora Denise Sant´Anna evidencia em seus trabalhos, como na Modernidade o pretexto terapêutico se aliou rapidamente a interesses morais: governar o corpo passou a ser condição para governar a sociedade, administrar os afetos e domar as emoções.
Foi também nesse momento de transição que ocorreu a maior queima de mulheres na fogueira (presume-se que 75% das pessoas queimadas na fogueira foram mulheres). Muitos historiadores apontam para o fato de que as mulheres, com sua sabedoria popular e conhecimentos sobre a cura das doenças, partos, abortos etc., tornaram-se uma ameaça para a nova ordem médica em ascenção.
Não obstante todos os avanços em termos de direitos reprodutivos, sobretudo a partir dos anos 60 do século XX, estamos longe de termos superado essas questões, que se atualizam a cada investida desesperada do Patriarcado agonizante contra o corpo das mulheres.
No Brasil de 2020, assistimos perplexos/as ao caso de uma menina de 10 anos, grávida, cujo direito legal ao aborto foi recusado no Espírito Santo, sendo realizado no Cisam de Recife.
Fundamentalistas religiosos defenderam que a gravidez fosse levada até o fim, o que caso ocorresse colocaria em risco a vida da menina, que foi revitimizada e agredida reiteradamente: violentada durante vários anos pelo parente de quem engravidou; violentada quando o caso foi judicializado quando por premissa (sua idade) se tratava de um estupro; violentada quando os médicos se recusaram a cumprir a lei e violentada quando uma horda de fascistas fez uma manifestação no hospital que realizou o procedimento.
No dia 27 de agosto de 2020, após esse caso nefasto, o Ministério da Saúde publicou a portaria 2.282, e na sequência a 2.561/20, obrigando dentre outras coisas, os médicos a comunicarem autoridades policiais quando de abortos decorrentes de estupros. Essa obrigatoriedade independe da decisão da mulher de abrir ou não uma ocorrência policial e implica em comprovação de que a gravidez seja fruto de estupro, culpabilizando mais uma vez a vítima.
As consequências da renovação desse discurso retrógrado traduzido em leis arbitrárias é operar um retrocesso inadmissível quanto ao direito das mulheres sobre seus corpos, com consequências subjetivas incalculáveis.
O direito ao aborto legal é uma conquista que precisa ser ampliada e não criminalizada para que nenhuma mulher seja submetida a “uma lei tola e desumana que obriga as mulheres a continuar com gestações indesejadas”.
Ana Laura Prates é Psicanalista, escritora e editora. Doutora pela Universidade de São Paulo – USP, Pós doutora pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro – UERJ e pesquisadora da Universidade de Campinas -UNICAMP. É autora, dentre outros, de Feminilidade e experiência psicanalítica (Editora Larvatus Prodeo), De la fantasia de infancia al infantil de la fantasia (LetraViva) e La letra de la carta al nudo (Un-decir). É AME da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano/Fórum de São Paulo. É colunista do Jornal GGN. Mãe de Gabriel e Luiza.
Não perca as novidades
